CAPÍTULO 1
O que é a Democracia?

O objetivo deste material é problematizar e analisar o conceito de democracia e sua relação com a gestão democrática na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Primeiramente, devemos levar em conta que a ideia de democracia é muito similar ao que postulou sobre a liberdade. Para ela, a liberdade é algo que toda alma humana deseja, embora nenhuma alma humana possa defini-la de modo satisfatório.
Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique e ninguém que não entenda
Os conceitos aproximam-se, aqui, no plano do desejo: embora seja difícil definir “liberdade” e “democracia”, essas ideias movem e impulsionam a ação humana. A partir dessa lente, a democracia é algo a que aspiramos e que buscamos através da história, não propriamente uma realidade fácil de construir com arranjos e regras em qualquer instituição, em qualquer tempo. Devemos considerar, também, que liberdade, democracia e gestão democrática estão muito mais alinhadas à atitude – um processo a ser construído – do que propriamente a um estágio ou produto. Por essa razão, há sempre o risco de que quem ocupa o poder, em vez de estimular e ampliar as decisões coletivas, passe a buscar subterfúgios para se manter no controle.
Na EPT, é fundamental considerar a ênfase deno pensamento de que, para sermos efetivamente cidadãos e livres, não basta apenas pensarmos em votar, mas também na possibilidade de sermos votados. Da mesma forma, não é suficiente apenas saber ser governado: é essencial desejar – e saber – governar.
A tendência democrática de escola não pode consistir apenas em que um operário manual se torne qualificado, mas em que cada cidadão possa se tornar governante
A Democracia e seus desafios conceituais
refletiu sobre o conceito de democracia na obra Política (1997). Segundo o filósofo, como essa forma de governo permite participação ativa de todos os cidadãos, ela se torna suscetível a tentativas de subversão da lei ou de cair no risco de uma demagogia. Aqui, é preciso salientar que, para o pensador, a corrupção pode acontecer em qualquer regime quando um governo ou governante afasta-se da lei e da ideia do bem comum. Veja:
.png)
Título: Alguns exemplos de formas de governo
Fonte: Jebelun (2015), Joseph Keppler (1889), Manfred (13??), Tribunal Superior Eleitoral (2022).
Elaboração: Prosa (2024d).
Com o postulado, Aristóteles (1997), o ‘pai’ da política no ocidente, ensina-nos que o modelo de gestão ou de governo é menos importante que o compromisso com o sentido da lei e com o bem comum. Em síntese, para um bom governo do público – ou, como postulou Platão, governo da ‘coisa pública’ ("coisa" do latim Res e "Pública" do latim Publica) –, é necessário primeiramente um bom governo de si (enkrateia) . Essa premissa já está expressa no livro das Leis de Platão (1924) e muito evidente num dos primeiros livros do ocidente, O Econômico, de Xenofonte (1999), que endossa a seguinte metáfora de Sócrates: apenas aquele que governa bem a si mesmo pode desejar governar outros. O lugar comum da democracia antiga, portanto, é a premissa do bom governo de si (saber governar-se e saber ser governado: enkrateia).
Em primeiro lugar, tinha algo a ver com a forma como um povo governava a si mesmo. Democracia envolvia alguma noção de autonomia. Nesse sentido, as análises sobre a democracia tendiam a invocar um segundo termo bastante complexo – “liberdade” – que Atenas utilizava tanto no sentido coletivo de estar livre de imposições externas como no sentido da liberdade individual de não se estar submetido a outrem [...]. Democracia tinha relação tanto com poder coletivo quanto com liberdade individual
De acordo com o livro VI de A República (2000) e As Leis de Platão (2004), fica evidente que é o amor à lei que torna um espírito elevado. Já no livro X da mesma obra, temos o ensinamento de que a luta interior (em grego, agón) para superar o egoísmo e os destemperos (ou mesmo os desejos desmedidos) é que possibilita uma subjetividade que deseja o bom, o belo e o justo. É desse controle sobre os vícios que nasce a Callipólis (bela cidade). Ou seja, a cidade bem ordenada nada mais seria do que o resultado do conjunto de bons desejos individuais.
Em síntese, para, a democracia legítima é construída dentro da alma humana, corrigindo-a de possíveis desvios de irracionalidade. Nesse contexto, a própria cidade (em todas as suas nuances) seria uma expressão viva do reflexo da alma humana. Tanto é que a noção de classe social nasce a partir disso: da distinção entre o racional (a razão), o concupiscível (os desejos) e o irascível (a emoção). Assim, a parte empírica da cidade nada mais seria do que a replicação da alma humana.
Para Aristóteles, sobretudo em sua obra Política (1997), a elaboração e execução de uma constituição democrática implicaria fazer uma síntese dialética de todas as constituições existentes, zelando pela institucionalização de um compromisso com a virtude, a felicidade e o bem comum. Em outras palavras, parece que Aristóteles, assim como Platão, compreende que a democracia é uma missão que demanda um pouco mais que o exercício individual de luta interior. Entretanto, carecemos de uma institucionalização via família, escola e sociedade, para que, assim, possamos produzir em todos o compromisso e o engajamento com o propósito da vida em coletividade. Lembrando que a virtude produz felicidade coletiva, não apenas individual (Aristóteles, 1987).
Dito isso, a etimologia da palavra democracia ("povo" do grego demo e "poder" do grego cratos) não traduz a complexidade do que significa de fato a democracia como processo contínuo de construção intelectiva para chegarmos efetivamente a um governo de todos para todos. Do ponto de vista político, a democracia é – e deve ser – um processo vivo, e não uma realidade dialética concluída. Independentemente de partirmos de uma visão platônica do núcleo subjetivo como mote ou ponto de partida ou, a partir de Aristóteles, da institucionalização da noção de bem comum, o cuidado com a democracia e a democratização é e deve ser constante.
 Título: Cecilia Meireles Fonte: Folhapress. Elaboração: Prosa (2024a).
Título: Cecilia Meireles Fonte: Folhapress. Elaboração: Prosa (2024a).
 Título: Antonio Gramsci Fonte: Autor desconhecido. Elaboração: Prosa (2024b).
Título: Antonio Gramsci Fonte: Autor desconhecido. Elaboração: Prosa (2024b).
 Título: Aristóteles Elaboração: Prosa (2024c).
Título: Aristóteles Elaboração: Prosa (2024c).
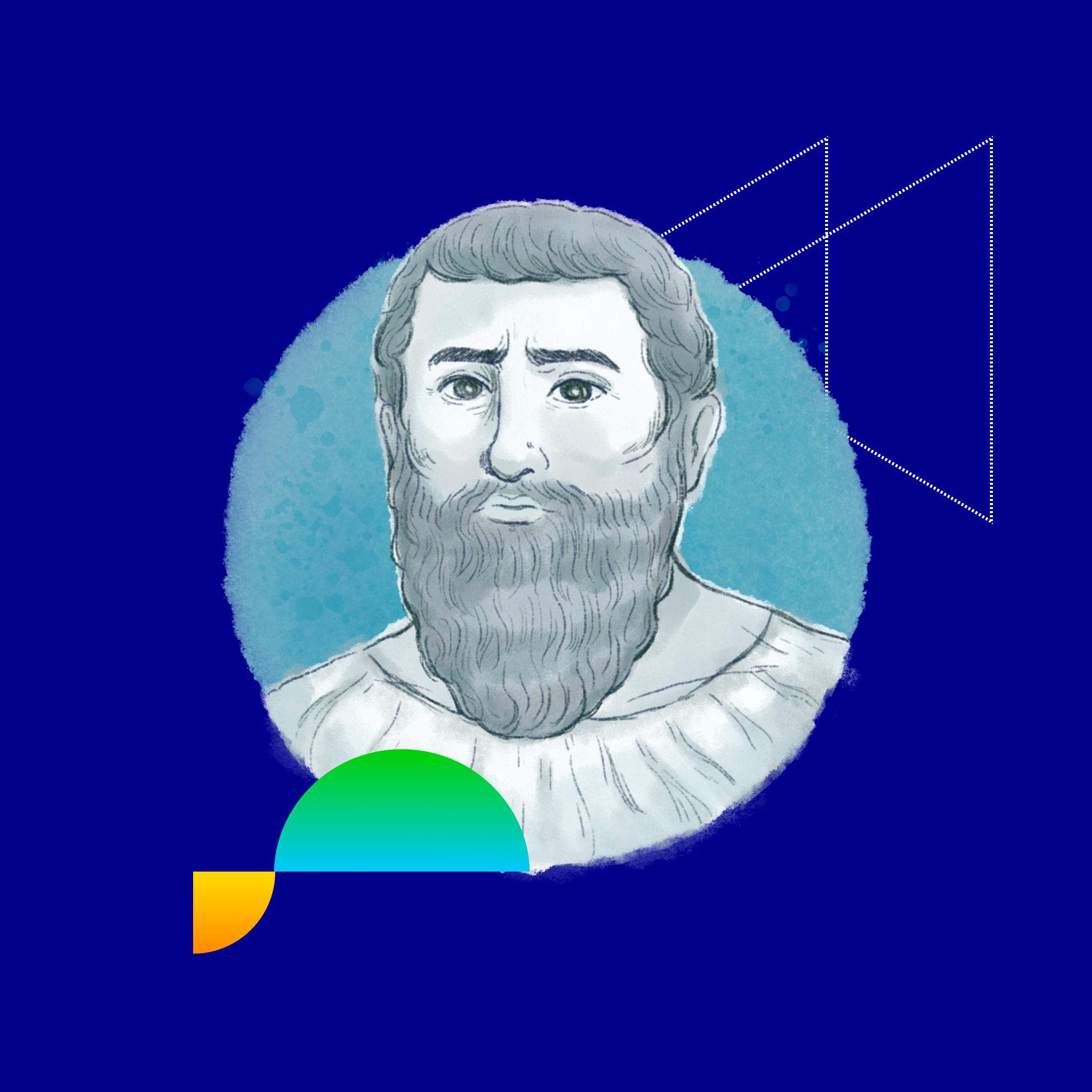 Título: Platão Fonte: Prosa (2024e).
Título: Platão Fonte: Prosa (2024e).